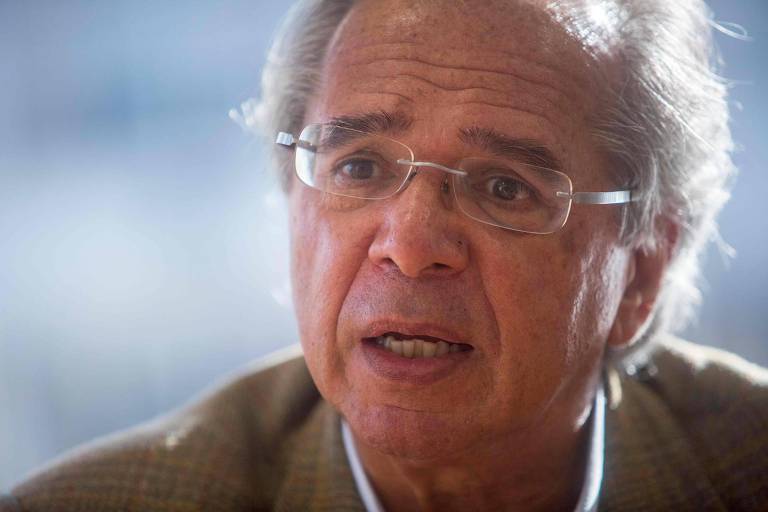Nos últimos meses, o economista Armínio Fraga aprofundou reflexões sobre o papel da economia no desenvolvimento do Brasil. Chegou à conclusão de que o país demanda respostas mais completas.
“Mesmo quando falamos de economia, precisamos incluir hoje, aqui no Brasil, temas como Estado de Direito , respeito às minorias, fim da desigualdade, combate à violência —com uma postura de paz em relação à violência”, diz.
Ex-presidente do Banco Central na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ele espera que o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), tenha sensibilidade para perceber o quadro político e social complexo que herdará.
“Há um receio, bastante difundido, sobre o que pode acontecer nessas área em função de declarações e posições históricas do presidente eleito. Isso é algo que só ele pode resolver”, afirma.
Numa entrevista à Folha, o sr. disse que o Brasil precisava de uma nova retórica na economia, deixar de ter vergonha da austeridade. Com esse novo governo há espaço para essa nova retórica?
Ali naquela altura, um dos temas de discussão era a austeridade. É polêmico. Virou palavrão em algumas partes do mundo. Eu tentava explicar por que é bom para as pessoas e países viverem dentro de seus limites.
Hoje, eu diria que uma resposta adequada para os desafios econômicos e sociais do Brasil —que são agudos por causa dessa monumental recessão que está agora se dissipando— envolve questões mais completas.
As pessoas precisam de um bom sistema econômico, e esse sistema econômico vive grudado umbilicalmente ao sistema político e à sociedade. Ele precisa dar respostas a vários temas. Mesmo quando falamos de economia, precisamos incluir hoje, aqui no Brasil, temas como Estado de Direito, respeito às minorias, fim da desigualdade, combate à violência —com uma postura de paz em relação à violência. Se não tocarmos nesses grandes temas, estamos deixando algo muito importante de fora.
Esses fatores não apenas influenciam a vida das pessoas e como elas se sentem. São fatores que têm grande peso nas decisões econômicas tanto de curto quanto de longo prazo. De curto prazo, afetam decisões diárias de trabalhadores e de empresas. De longo prazo, definem investimentos públicos e privados.
Você ainda tem o lado social clássico, propriamente dito. No caso dele, idem. No Brasil, você tem uma versão mais aguda de uma crise global. Temos um desemprego muito alto, um grau elevado de desalento, desesperança, frustração.
A sensação é que a desigualdade é algo permanente, estrutural —o que, infelizmente, a nossa história sugere que, se não é permanente e estrutural, é um problema de prazo longo, que existe desde sempre.
Esse tema precisa de respostas econômicas mais do que nunca. E isso inclui aquilo que afeta diretamente a vida das pessoas: o emprego, a renda, a capacidade de o indivíduo se desenvolver, de se educar. São questões que exigem respostas mais eficientes dos economistas.
Eu diria que os governos Fernando Henrique e Lula colocaram isso no mapa de uma forma muito clara. Mas o Brasil segue carente nessas áreas e os economistas precisam entender: o que se faz na economia tem por objetivo final melhorar o padrão de vida das pessoas, reduzir desigualdades e aumentar oportunidades. É algo assim. Isso não pode ser só retórico. Precisa estar no discurso e ser acompanhado de ações concretas. Ultimamente tenho pensado muito nesse tema nessa fase de mudança.
O sr. mencionou a importância do Estado de Direito, de se reconhecer minorias, o peso do desemprego. Ouvimos muitas declarações controversas a respeito desses e outros temas sociais durante e após a campanha. Bolsonaro disse há poucos dias que tem uma farsa no cálculo do desemprego; eleitores dele questionam o Bolsa Família, a legitimidade de o Estado dar auxílios aos mais pobres. Como o sr. interpreta questionamentos dos temas que acaba de mencionar, considera isso sensível?
Há um receio, bastante difundido, sobre o que pode acontecer nessas áreas em função de declarações e posições históricas do presidente eleito. Isso é algo que só ele pode resolver. Ele foi claro no discurso que apresentou no dia da eleição. Mas isso precisa ser posto em prática.
No dia seguinte, por exemplo, atacou a Folha. Não quero dizer que as pessoas não possam reclamar e questionar coberturas jornalísticas de uma maneira mais genérica, mas um ataque mais estrutural, assim, preocupa.
Estamos numa fase de observar o que vem por aí. Eu sempre entendi que temos de dar o benefício da dúvida, mas acompanhar. A partir daí, quem pode se posicionar e entrar nesses grandes temas que se posicione.
Temos grandes questões. O que fazer com a violência, com o crime organizado? Como lidar com essa questão de maneira efetiva? Fazer algo vai muito além de adotar a chamada “postura de rigor com o crime”.
O crime está muito espalhado na nossa sociedade. O crime organizado tem muitos tentáculos. Ele acabou de se posicionar. Anunciou o juiz Sergio Moro como ministro da Justiça.
Como o sr. viu a indicação de Moro, que também foi alvo de questionamentos?
Moro é um ícone. O trabalho dele como juiz foi extraordinário pela extensão e coragem. Foram inúmeras decisões, deliberações e condenações contra pessoas que, historicamente, em outro momento, teriam se safado de uma forma ou de outra. Moro acumulou um imenso respeito.
Sempre há, por outro lado, polêmicas com pessoas que cruzam de um braço do governo para outro —e isso, de alguma maneira, está na cabeça das pessoas. É fácil para quem está olhando de fora dizer: “Ah, mas será que ele já teria agido como agiu pensando nisso?” Eu não creio, mas ao menos é o que a gente lê.
A nomeação agradou muita gente, provavelmente a maioria. Caberá a ele e ao novo governo mostrarem a quantas veem. Mas não é um movimento apenas com benefícios. Tem custos.
Na área econômica, os primeiros anúncios indicam corte de ministérios, como o Mdic [Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços]. É o caminho certo?
O caminho, no geral, parece seguir a longa história de Paulo Guedes, que é alguém mais liberal e com visão de disciplina fiscal.
Na prática, apresenta avanços no desmonte da fracassada nova matriz econômica [nome dado à política adotada no governo Dilma Rousseff que previa expansão fiscal, crédito barato de bancos públicos, câmbio desvalorizado]. Acho que faz sentido.
Mas os primeiros sinais mostram que não há tanto apoio assim às privatizações. Na questão da reforma tributária, que é urgente, apareceu a palavra CPMF —que faz com que eu comece a me coçar quando escuto. É cedo ainda. Acho que precisamos dar mais tempo para saber a equipe que ele está montando.
Mas existem grandes temas de caráter político-ideológico, que precisam ser discutidos. Todos os sinais são de que a opção envereda por uma linha liberal-conservadora.
O que o sr. chama de política liberal-conservadora?
É liberal no sentido de desejar a concorrência, minimizar a presença do Estado na economia. Essa parte, a meu ver, é uma solução progressista também. Mas há a questão ideológica.
Eu não acredito que seja possível encolher tanto o Estado nas suas funções mais fundamentais. Algumas coisas podem tentar. Paulo sempre defendeu o uso de vouchers na educação, por exemplo. São possibilidades a conferir. Ele vai caminhar nessa direção.
Mas ainda não sei muito o que dizer das implicações econômicas do conservadorismo cultural, que também está aí, desde a presença maior da religião até outros aspectos que são menos claros e alguns são difíceis —ah, vamos lá— são impalatáveis, falando diretamente.
O que o sr. considera impalatável?
Questões ligadas a temas de minorias, de gênero, de raça. Aparece ali um peso maior para aspectos religiosos, e os outros temas, pelos discursos históricos, certamente estão ameaçados. Que implicações econômicas isso têm também são perguntas importantes. Tudo isso está dentro de um caldeirão que pode esquentar.
Caldeirão pressupõe que não sabemos qual pode ser a reação social. É isso?
Exato. Desde 2013, está muito claro que a turma não vai mais ficar passiva acompanhando as coisas.
Num país que já está muito polarizado esse é um tema prioritário para o governo que venceu —ao menos deveria ser. Ele precisa dar uma acalmada. Eu gostei do discurso [de Bolsonaro]. Ouvi e depois li.
Gostei do trecho em que ele diz algo na linha “as pessoas têm de ter o direito de fazer suas escolhas; escolhas precisam ser respeitadas”. Maravilha. Foi um sinal. Mas precisa ser posto em prática.
O sr. conhece o Paulo Guedes há quanto tempo?
Conheço bem o Paulo. Fui aluno dele em 1979, na PUC-Rio.
Como ele era como professor?
Fiz dois cursos com ele. Um foi de tópicos de teoria monetária. Ele tinha recém-chegado de Chicago. Adotou uma linha diferente da usada aqui, que na época era mais concentrada na tentativa de se compreender a inércia inflacionária. O segundo grande tema era crise cambial.
Bem o Brasil daquela época...
Sim, bem o Brasil. E a PUC era onde mais se estudava isso. A PUC não era propriamente heterodoxa, mas o Brasil era um país meio heterodoxo e você precisava achar soluções que atendessem.
E o Paulo chega falando sobre temas mais associados à Universidade de Chicago, um centro hiper-importante, cheio de Prêmios Nobel. Foi ótimo o curso. Era complementar ao que estudávamos. Depois, ele deu matemática no mestrado. Dava exemplo, mas esse curso era mais árido. Por mais que se dê exemplos, matemática é matemática.
A partir de então, sempre tive algum contato com ele. Estamos no meio dos economistas do Rio.
Ambos acreditaram a candidatura do apresentador Luciano Huck.
Ele primeiro. Foi um período interessante porque trazia uma grande novidade. Acaba que eu fiquei mais perto dele desde então. Quando eu me envolvi mais, o Paulo começava a conversar com Bolsonaro. Eu estive com o Paulo quando o Luciano anunciou que não iria concorrer. Acho que foi em fevereiro.
Muita gente duvida da capacidade de gestão de Guedes por falta de experiência no setor público e a controvérsia cresce porque já anunciaram a criação de superministério da Economia sob o comando dele. Isso é um problema?
A falta de experiência é uma realidade. Mas ele conhece economia e conhece o Brasil. Ele pode compensar isso contratando pessoas e usando a seu favor a máquina que vai estar lá, à disposição dele. Faz falta a experiência, sim.
Mas é inegável ser importante para o governo novas ideias. Ainda mais num momento como este. Essa é uma questão que pode ser administrada.
O superministério é outra coisa. É bom reduzir o número. Com 30, 40 ministérios, o presidente não consegue se reunir com a equipe. É uma estrutura hierárquica inadministrável. Em tese, você pode reduzir a dez. Mas tudo que acontece nos ministérios, de uma forma ou de outra, continuaria existindo.
O Marcílio Marques Moreira foi do ministério da Economia e funcionava. O ministro vai apenas ter de delegar mais. Mas reduzir ministério pode ser uma panaceia danada. Não quer dizer nada. Também vamos ter de esperar para ver.
Como foi a entrega da proposta de reforma da Previdência?
Foi por email. Ele está ocupado, com muita coisa na cabeça. Essa parte eu prefiro não comentar. A decisão de o que fazer é deles. O que não foi muito divulgado, mas também entregamos para eles foram sugestões de projetos de lei complementares. Mas agora que reforma, como e quando é uma questão para eles. Não fazemos parte dessa discussão.
Nossa proposta é abrangente e impactante. Quando se olha o tamanho do ajuste que é preciso fazer e o tamanho do gasto, me parece mais importante uma reforma assim, impactante. Mas a gente abre o jornal e vê que estudam aquela que está no Congresso. Ok.
As decisões são do governo. Não temos ilusões sobre resistências em relação a alternativas. A decisão que não pode ser evitada é a do ajuste fiscal. O governo pode até num primeiro momento utilizar receita extraordinárias, mas depois precisa do ajuste.
Eles já falaram que em um ano, um ano e meio, é possível zerar o déficit primário [resultado da contabilidade pública em que despesas superam as receitas, sem contabilizar ganhos e perdas com juros]. Isso é viável?
Se computarem como receita o dinheiro que vem do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], que vem da Petrobras, pode até ser. Na minha contabilidade, zerar o déficit medido corretamente, não. Você pode compensar uma parte do impacto que a não zerada do déficit teria vendendo ativos.
Mas o que seria zerar o déficit de verdade?
Hoje o déficit está perto de 2% do PIB [Produto Interno Bruto]. Para zerar, seria reduzir esses 2%. Mas eu acho que precisa de um com 5%, 6%, para inverter a trajetória de aumento da dívida. E mesmo um de 5%, 6% faz uma trajetória de queda suave. Mas pegar o dinheiro do BNDES produz apenas um efeito contábil. Ele fica rendendo juros que reverte recursos para o caixa do governo. O dinheiro da Petrobras sim, o governo recebe e pode dizer contabilmente ele faz parte da receita. Na medida que existe essa transferência ameniza o crescimento da dívida.
Mas para que o Brasil dê um salto de confiança, é inevitável que o Brasil faça um ajuste que coloque o resultado primário num superávit de 4% do PIB, calculado de maneira rigorosa, sem usar receitas extraordinárias de maneira abusiva.
O sr. foi coautor de um artigo que fala em reformar o RH do governo. Ele teria efeito nesse ajuste?
No longo prazo pode ajudar. A folha de pagamento do governo é alta em proporção do PIB, quando se compara com outros países. Mas não tem impacto no curto prazo a não ser dar um sinal do Estado e uma satisfação para a sociedade.
Seria uma verdadeira mudança no paradigma de gestão, onde tudo seria avaliado: a estrutura e os órgãos, com transparência, até o nível das pessoas, que também serão avaliadas para que suas promoções passem por essas avaliações.
As carreiras são diferentes, as pessoas precisam de metas e devem ser avaliadas e promovidas conforme essa avaliação.
Ninguém entendeu muito bem a ideia, mas Bolsonaro e Onyx Lorenzoni [deputado federal indicado ministro da Casa Civil] falaram em meta para o câmbio. O que lhe parece um sistema assim?
A experiência geral no mundo mostra que isso não funciona. Conhecendo o Paulo, sei que ele sempre defendeu regras e não políticas discricionárias. Não ficou mesmo claro sobre o que falavam.
E qual a sua opinião sobre a proposta de reduzir as reservas internacionais?
Isso é outra questão. Eu separaria. O governo pode fazer um estudo e concluir que pode usar. Eu acho bom o número que está aí, mas não foi fruto de nenhuma análise sistemática sobre o que representa.
Acho que seria saudável fazer um seminário, uma reflexão sobre qual seria o nível adequado de reservas. Se chegarem à conclusão que é preciso reduzir, precisa fazer um planejamento para vender. Lembre-se que vai colocar pressão sobre o câmbio.
Essa discussão poderia ser feita de maneira mais organizada –mas não estou cobrando nada do futuro ministro porque sei que ele vai caminhar nessa direção em função de tudo que ele defendeu a vida inteira.
Ele agora está sendo pressionado por perguntas de tudo quanto é lado. Nessas horas você vê que ele está debaixo de uma pressão enorme.
Muita gente falou que o mercado financeiro apoiou o candidato Bolsonaro, impondo calmaria e altas à Bolsa, queda no dólar. A tendência, porém, é de piora no cenário internacional. Como isso pode afetar o desempenho do novo governo?
Primeiro, acho que o mercado reagiu ao PT e ao não PT. Pelo histórico recente do partido, até pelo que disse o candidato, que rejeita reformas, rejeitou falar em mudar coisas aqui e ali. Do outro lado, você tinha o Paulo, e todos sabem o que ele pensa.
Agora, a visão parece ser -e é correta- que haveria espaço para crescer sem inflação. Até certo ponto. Houve um colapso do investimento. O problema é se vai haver investimento.
De fato, as condições pioraram no mundo. Acabou a era do dinheiro de graça. Os períodos de alta de juros sempre foram penosos para a periferia. Há protecionismo, que é ruim para todo mundo. E mesmo o grau de endividamento do mundo aumentou. O nível geral vem crescendo no planeta.
Ou seja, há uma certa fragilidade financeira. Isso caracteriza um quadro de condições adversas para frente. O Brasil entra frágil nesse ciclo.
O sr. é da geração que cresceu durante o que Bolsonaro chama de revolução e outras pessoas chamam de ditadura. Como o sr. vê o retorno dos militares ao poder?
Há uma diferença muito grande entre ex-militares assumindo posições no governo e militares no poder, baixando coisas como AI-5 [Ato institucional número 5, de dezembro de 1968, que suspendeu direitos constitucionais e impôs a censura].
A presença de mais militares parece garantida, resta saber o que exatamente vão fazer. Eles são preparados.
Não creio que militares da ativa têm interesse de assumir a encrenca que está aí. Não vejo esse ímpeto. Não temos mais Guerra Fria, essas coisas. Mas a conferir o que vem. Eles tendem a ser mais adeptos ao planejamento e adotar um certo dirigismo.
Pelo esboço, até o momento, os militares dariam diretrizes na área de infraestrutura, onde há problemas regulatórios e obras paradas.
Problemas não faltam aí. Independentemente de quem fique, a realidade é que o governo está quebrado, não tem dinheiro para fazer o que fez na década de 1970 –mesmo lá se endividou bastante. Será preciso um modelo que mobilize capital privado.
A estrutura regulatória vai ter de ser reforçada em, alguns casos, refeita. Isso não foi prioridade nos governos do PT. A área foi tratada como cabide de empregos. Já era claro o problema há dez anos.
Quem quer que venha -fique nas mãos de executivos com formação militar ou não- , a operação vai exigir a criação de um ambiente de confiança nas regras.
Temos como exemplo de sucesso recente a área de petróleo. As regras mudaram e o capital veio. É por aí. Ser militar ali ou não, em tese, não quer dizer nada. Precisa entender a arquitetura e acertar a regulação.
Na gestão dos militares foi o período em que mais se investiu em infraestrutura e menos no social. Isso muda no governo de Fernando Henrique, que coloca mais recursos em educação e saúde e criou um arcabouço regulatório.
É o que tentamos resgatar agora, dando uma boa arrumada no que se fez na regulação nos últimos anos.
No petróleo, entraram vários estrangeiros. Chineses investem pesado no setor de energia e Bolsonaro também deu declarações sobre fazer restrições aos chineses. Qual o risco dessa posição para a retomada?
Com frequência se ouve a palavra estratégico quando se discute a presença de capital estrangeiro, com frequência no caso chinês porque o investimento costuma ser feito por empresas estatais. Sempre se discute o que fazer com isso, que precauções tomar.
Para começar, é bom lembrar que quem investe aqui sempre corre um risco maior do que nós que estamos recebendo o dinheiro.
O chinês coloca dinheiro num empreendimento de energia elétrica e, se algo der errado, não vai carregar o investimento para China; tampouco vai invadir o Brasil para ficar com ele. Tem questões ligadas à tecnologia: vai trazer ou não vai? São discussões complicadas.
A própria discussão EUA-China, em função de ocorrerem no estilo do atual presidente dos Estados Unidos, escondem algumas questões complexas. Não é só uma postura hipernacionalista simples –é porque é, queremos fechar e ponto.
A discussão sobre tecnologia lá é complexa. Os Estados Unidos é um grande produtor de ideias e tecnologias. É importante que essa produção seja respeitada.
No nosso caso é mais simples, como o Brasil é um país de baixo valor agregado, as exportações são de baixo valor agregado.
Muitas pessoas dizem: temos de aumentar o valor agregado de nossas exportações. Eu digo: não. Temos de aumentar o valor agregado de tudo. Em isso acontecendo, vamos exportar itens de maior valor agregado. Não tem essa discussão.
A nossa relação com a China sempre vai ser alvo de muita discussão e espero que seja feita de forma racional. Eles são grandes, são duros negociadores, não dão bobeira.
Nós vamos ter de sentar e ter essa relação. Não tem jeito. É do nosso interesse e dos chineses –e essa relação pode ser bem menos barulhenta que a dos Estados Unidos.
De 2014 para cá, tivemos o impeachment, um governo Michel Temer com muitas tensões e agora, enfim, uma nova eleição. O sr. se considera mais tranquilo em relação ao Brasil agora?
Desembocamos num país muito polarizado. O novo governo nem chegou.
A gente não sabe para valer qual é a realidade até que surja um estresse entre todas essas partes que precisam ser atendidas: os desequilíbrios macros, as demandas sociais, as tensões políticas. É cedo para relaxar.